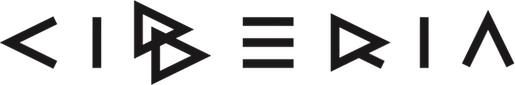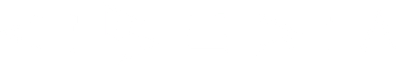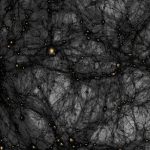Cientistas de Israel desenvolveram uma técnica para encontrar minas antipessoais e outros tipos de munições enterradas com uma bactéria fluorescente, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (11) pela revista Nature.
A investigação, liderada pela Universidade Hebraica, em Jerusalém, conseguiu desenvolver “biossensores” capazes de detectar por controle remoto artefatos que, anualmente, matam ou ferem de 15 mil a 20 mil pessoas em todo o mundo, de acordo com os especialistas.
De acordo com os pesquisadores, detectar e desativar materiais como esses também representava um grande risco para os profissionais da área, já que ainda recorrem a procedimentos desenvolvidos durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
A nova técnica combina o uso de laser e de uma bactéria fluorescente para elaborar um mapa com a localização exata das minas e das munições, das quais estima-se que ainda existam mais de 100 milhões em 70 países.
O sistema aproveita as pequenas quantidades de vapores explosivos que se desprendem dos artefatos enterrados e se acumulam perto da superfície para marcar a localização precisa.
A partir daí, os especialistas modificaram as moléculas de bactérias vivas para conseguir que, quando entrarem em contato com os vapores, emitam um sinal fluorescente que será registrado e quantificado remotamente.
Para os experimentos, os científicos encapsularam as bactérias em pequenas esferas de polímero e as espalharam pela superfície de um campo minado com artefatos explosivos reais.
Através de um sistema de scanner com laser conseguiram elaborar um mapa com a localização das minas, o que representa, destacam, “as primeiras demonstrações de uma técnica funcional de detecção de minas terrestres“.
“Para que isto se tornasse possível, tivemos que superar vários desafios, como aumentar a sensibilidade e a estabilidade do sensor da bactéria, melhorar a velocidade de exploração para cobrir grandes áreas e fazer o aparelho de scanner mais compacto para instalá-lo em dispositivos não tripulados ou drones”, indicou Shimshon Belkin, da Universidade Hebraica.
// EFE